Melhor ler o texto abaixo, primeiro...
a.h
-------------------------
"Quando há genocídio em Darfur; estupros sistemáticos no Congo; ou repressão em Myanmar - deve haver consequências. E quanto mais unidos estivermos, menos ficaremos fragilizados ante a escolha entre a intervenção armada e a cumplicidade com a opressão".
"Eu entendo por que a guerra não é popular. Mas também sei de uma coisa: a crença de que a paz desejável é raramente alcançada. A paz requer responsabilidade. A paz implica sacrifício. É por isso que a Otan continua a ser indispensável. É por isso que devemos fortalecer as Nações Unidas e as forças de paz regionais, e não deixar a tarefa para alguns poucos países".
"O compromisso dos Estados Unidos com a segurança global nunca esmaecerá. Mas num mundo no qual as ameaças são mais difusas e as missões mais complexas, os Estados Unidos não podem agir sozinhos".
07/07/2009
Ex-secretário compara Obama com um jogador de xadrez
Jan Fleischhauer e Gabor Steingart
O ex-secretário de Estado, Henry Kissinger, 86, fala sobre as dolorosas lições aprendidas com o Tratado de Versalhes, o idealismo na política e a oportunidade que Obama tem de forjar uma política externa norte-americana pacífica
Spiegel: Doutor Kissinger, 90 anos atrás, ao final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes foi assinado. Este tratado é um evento do passado que só interessa aos historiadores ou ele ainda influi nas políticas contemporâneas?
Kissinger: O tratado tem um significado especial para a atual geração de políticos, porque o mapa da Europa que emergiu do Tratado de Versalhes é, mais ou menos, o mapa da Europa que existe atualmente. Nenhum dos indivíduos responsáveis pela redação do tratado entendeu as implicações das suas ações. Eles tampouco entenderam que o mundo que emergiu do Tratado de Versalhes foi substancialmente contrário às intenções que o produziram. Quem desejar aprender com erros passados precisa entender o que ocorreu em Versalhes.
Spiegel: O objetivo do Tratado de Versalhes era acabar com todas as guerras. Era esse o objetivo do presidente Woodrow Wilson quando este chegou em Paris. Mas, apenas 20 anos mais tarde, a Europa mergulhou em uma guerra mundial ainda mais devastadora. Por que?
Kissinger: Para funcionar, qualquer sistema internacional precisa de dois elementos fundamentais. Primeiro, ele precisa contar com um certo equilíbrio de poder que faça com que a derrubada do sistema seja difícil e cara. Segundo, ele precisa ter um senso de legitimidade. Isso significa que a maioria dos Estados precisa acreditar que o acordo é essencialmente justo. Versalhes fracassou quanto a ambos os elementos. As reuniões de Versalhes excluíram as duas maiores potências continentais: a Alemanha e a Rússia. Quem entender que um sistema internacional precisa ser preservado da ação de um dissidente insatisfeito verá que a possibilidade de obter um equilíbrio de poder dentro do acordo era intrinsecamente fraca. Portanto, ele carecia tanto de equilíbrio quanto a um senso de legitimidade.
Spiegel: Em Paris nós presenciamos o choque de dois princípios de política externa: o idealismo encarnado por Wilson, que chocou-se com um tipo de realpolitik representada pelos europeus, que baseava-se, acima de tudo, na lei do mais forte. Você pode explicar o fracasso da abordagem norte-americana?
Kissinger: A visão norte-americana era de que a paz é a condição normal entre os Estados. Para garantir uma paz duradoura, seria preciso organizar um sistema internacional com base nas instituições domésticas de todas as regiões, que refletiriam o desejo do povo. O desejo do povo era sempre considerado contrário à guerra. Infelizmente, não existem evidências históricas de que isso seja verdade.
Spiegel: Segundo o seu ponto de vista, a paz é a condição normal entre os Estados?
Kissinger: As pré-condições para uma paz duradoura são muita mais complexas do que a maioria das pessoas acredita. Não se tratava de uma verdade histórica, mas sim da declaração da visão de um país composto de imigrantes que havia voltado as costas para um continente e que tinha ficado imerso durante 200 anos nas suas políticas domésticas.
Spiegel: Você diria que os Estados Unidos involuntariamente criaram uma guerra ao tentarem criar a paz?
Kissinger: A causa básica da guerra foi Hitler. Mas, até o ponto em que o sistema de Versalhes desempenhou um papel, é inegável que o idealismo norte-americano das negociações de Versalhes contribuiu para a Segunda Guerra mundial. O apelo de Wilson pela autodeterminação dos Estados teve o efeito prático de fracionar alguns dos maiores Estados da Europa, e isso criou uma dificuldade dupla. Primeiro, descobriu-se que era tecnicamente difícil separar aquelas nacionalidades que haviam convivido juntas durante séculos e transformá-las em entidades nacionais segundo a definição de Wilson, e, segundo, o tratado teve a consequência prática de deixar a Alemanha estrategicamente mais poderosa do que era antes da guerra.
Spiegel: Por que? A Alemanha estava desarmada e geograficamente dizimada.
Kissinger: Expansão territorial e poder são fatores relativos. A Alemanha estava menor, porém mais poderosa. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha enfrentava três grandes países nas suas fronteiras: Rússia, França e Reino Unido. Depois de Versalhes, a Alemanha enfrentava um conjunto de Estados menores nas suas fronteiras orientais. Ela estava altamente insatisfeita com cada um deles, mas nenhum daqueles Estados era, sozinho, capaz de resistir à Alemanha, e provavelmente nenhum deles seria capaz de resistir aos alemães mesmo se contassem com a ajuda da França. Assim, sob um ponto de vista geoestratégico, o Tratado de Versalhes não atendeu nem às aspirações dos principais protagonistas nem à possibilidade estratégica de defender o que foi criado, a menos que a Alemanha fosse mantida permanentemente desarmada. Teria sido correto incluir a Alemanha no sistema internacional, mas foi precisamente isso o que as potências vitoriosas omitiram-se de fazer ao desmilitarizarem e humilharem o país.
Spiegel: Apesar do fracasso de Versalhes, esta ideia de Wilson é notavelmente prevalente. Será que a nossa afinidade pelos ideais da democracia é ingênua?
Kissinger: A crença na democracia como um remédio universal reaparece regularmente na política externa norte-americana. O seu ressurgimento mais recente deu-se com os chamados neoconservadores do governo Bush. Na verdade, Obama está muito mais próximo de uma política realista do que Bush.
Spiegel: Você vê Obama como um adepto da realpolitik?
Kissinger: Deixe-me falar uma coisa sobre realpolitik, apenas para esclarecer. Eu sou regularmente acusado de empregar a realpolitik. Eu não creio que jamais tenha usado esse termo. Este é um dos rótulos que os críticos gostam de aplicar em mim, para depois dizerem: "Vigiem-no. Ele é de fato alemão. Ele não tem uma visão norte-americana das coisas".
Spiegel: Então, esta é uma maneira de pintá-lo como um cínico, não?
Kissinger: Os cínicos lidam com os valores como sendo equivalentes e instrumentais. Os estadistas baseiam as decisões práticas nas convicções morais. É sempre fácil dividir o mundo entre idealistas e pessoas orientadas pelo poder. Espera-se que os idealistas sejam os indivíduos nobres, e que as pessoas orientadas pelo poder sejam aquelas que causam todos os problemas do mundo. Mas eu acredito que mais sofrimento foi provocado por profetas do que por estadistas. Para mim, uma definição razoável de realpolitik consiste em dizer que existem circunstâncias objetivas sem as quais a política externa não pode ser conduzida. Tentar lidar com o destino das nações sem levar em consideração as circunstâncias com as quais elas têm que conviver é escapismo. A boa arte da política externa consiste em entender e em levar em consideração os valores de uma sociedade, em concretizá-los no limite extremo do possível.
Spiegel: E se os valores não puderem ser levados em consideração por serem desumanos ou demasiadamente caros?
Kissinger: Em tal caso, a resistência é necessária. No Irã, por exemplo, é necessário perguntar se é preciso ter uma mudança de regime antes que se possa pensar em um conjunto de circunstâncias no qual cada parte que mantém os seus valores chegaria a algum entendimento.
Spiegel: E a sua resposta?
Kissinger: É muito cedo para dizer. Neste momento eu tenho mais perguntas do que respostas. O povo iraniano aceitará o veredicto dos líderes religiosos? Os líderes religiosos estarão unidos? Eu não sei as respostas, e ninguém sabe.
Spiegel: Você dá a impressão de ser muito cético.
Kissinger: Vejo duas possibilidades. Ou nós chegaremos a um entendimento com o Irã, ou nos chocaremos com aquele país. Com uma sociedade democrática, nós não podemos justificar tal choque ao nosso próprio povo, a menos que possamos demonstrar que tentamos seriamente evitar esse choque. E eu não quero dizer com isso que teremos que fazer concessões quanto a tudo que eles exigem, mas sim que temos a obrigação de apresentar idéias que o povo norte-americano possa apoiar. A convulsão social em Teerã precisa seguir o seu curso antes que essas possibilidades possam ser exploradas.
Spiegel: Então você está propondo uma espécie de idealismo realista?
Kissinger: Exatamente. Não existe realismo sem um elemento de idealismo. A ideia de poder abstrato só existe para acadêmicos, e não na vida real.
Spiegel: Você acha que o fato de Obama ter feito um discurso ao mundo muçulmano no Cairo foi útil? Ou ele criou muitas ilusões a respeito do que a política é capaz de realizar?
Kissinger: Obama é como um enxadrista que está fazendo jogos simultâneos e que iniciou o seu jogo com uma abertura incomum. Agora ele tem que usar a sua estratégia enquanto joga com os vários oponentes. Ainda não fomos além da jogada de abertura. Não tenho nada contra a jogada inicial.
Spiegel: Mas o que vimos da parte dele até o momento constitui-se em realpolitik?
Kissinger: É muito cedo para dizer tal coisa. Se o que ele deseja é afirmar ao mundo muçulmano que os Estados Unidos têm uma postura aberta em relação ao diálogo e não estão determinados a manter a confrontação física como única estratégia, então a atitude dele poderá desempenhar um papel muito útil. Mas se a ideia for continuar agindo com base na crença de que toda crise pode ser administrada por meio de um discurso filosófico, ele tropeçará em problemas wilsonianos.
Spiegel: Mas Obama não se limitou a fazer um discurso. Ao mesmo tempo, ele pressionou Israel no sentido de que pare de construir assentamentos na Cisjordânia e reconheça um Estado palestino independente.
Kissinger: O resultado disso só pode ser uma solução de dois Estados, e parece haver uma concordância substancial quanto às fronteiras de tal Estado. Mas não é possível deduzir do discurso como fazer que tal cenário se concretize ou com que questão começar.
Spiegel: Conceitos como "bem" e "mal" fazem sentido no contexto da política externa?
Kissinger: Sim, mas geralmente em gradações. Raramente de forma absoluta. Eu creio que existem duas formas de mal que precisam ser condenadas e destruídas, não se devendo pedir desculpas por isso. Mas não se deve usar a existência do mal para permitir que aqueles que representam o bem insistam que têm um direito ilimitado de impor a definição dos seus valores.
Spiegel: O que a palavra "vitória" significa para você? Após a Primeira Guerra Mundial, havia um vitorioso e uma vítima, os alemães; e o Tratado de Versalhes foi uma tentativa de conter a potência que perdeu a guerra. Você acha que é uma boa ideia declarar vitória sobre um outro país?
Kissinger: O importante após uma vitória militar é lidar com a nação derrotada de uma maneira generosa.
Spiegel: Você quer dizer com isso que não se deve subjugar a nação derrotada?
Kissinger: Você pode ou enfraquecer uma nação derrotada até um ponto em que as convicções dela não tenham mais importância, e a partir disto impor a ela tudo o que quiser, ou então trazê-la de volta para o sistema internacional. Sob o ponto de vista de Versalhes, o tratado foi muito leniente com a ideia de manter a Alemanha subjugada, e ficou muito difícil trazer a Alemanha para o novo sistema. Assim, o tratado fracassou duplamente.
Spiegel: O que faria um vencedor inteligente?
Kissinger: Um vitorioso inteligente tenta inserir a nação derrotada no sistema internacional. Um negociador inteligente procura encontrar uma base a partir da qual o acordo será mantido. Quando se chega a um ponto no qual nenhuma dessas possibilidades existe, as únicas opões são aumentar a pressão sobre o adversário, isolá-lo, ou talvez fazer as duas coisas.
Spiegel: Os países ocidentais foram inteligentes no que diz respeito a forma como lidaram com a antiga União Soviética após a sua implosão?
Kissinger: Houve um excesso de triunfalismo no lado ocidental. Houve ainda um excesso de descrições dos soviéticos como derrotados em uma Guerra Fria e talvez uma certa dose de arrogância.
Spiegel: Não apenas em relação à Rússia?
Kissinger: Em outras situações também.
Spiegel: Qual a diferença entre os conflitos na Europa no início do século 20 e os conflitos que estamos enfrentando no mundo atual?
Kissinger: Nos períodos anteriores, o vitorioso podia prometer a si próprio algum benefício. Sob as atuais circunstâncias, isso não se aplica mais. Um choque entre a China e os Estados Unidos, por exemplo, enfraqueceria ambos os países.
Spiegel: Você chegaria ao ponto de dizer que o que estamos presenciando é o fim das guerras de grande dimensão?
Kissinger: Eu acredito que Obama conta com uma oportunidade única de aplicar uma política externa norte-americana pacífica. Não vislumbro nenhum conflito entre os países de maior importância, China, Rússia, Índia e Estados Unidos, que justificasse uma solução militar. Portanto, existe uma oportunidade para um esforço diplomático. Além do mais, a crise econômica não permite que os países dirijam uma percentagem histórica dos seus recursos para o conflito militar. Eu estou estruturalmente mais otimista do que estava dois anos atrás.
Spiegel: Você não tem medo da situação no Irã?
Kissinger: O medo não é uma boa motivação para a política de Estado. Pode ser que algum tipo de conflito, pelo menos local, ocorra, mas isso não precisa acontecer. O Irã é um país relativamente fraco e pequeno, que enfrenta limites inerentes à sua capacidade. A relação da China com o resto do mundo é bem mais importante em termos históricos do que as questões iranianas em si.
Tradução: UOL
-------------------------------------
| Missão de Gates é administrar retirada Tirar soldados do Iraque é tudo que se espera do substituto de Rumsfeld, diz analista. 'Ninguém está pedindo que ele pense' | |
| LOURIVAL SANT’ANNA Enviado especial | Domingo, 12 de novembro de 2006 |
| RIO A derrota do governo de George W. Bush na eleição de terça-feira e a queda do secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, marcam mais uma volta no pêndulo americano entre o intervencionismo e o recolhimento. Embalado no sucesso no Afeganistão, Rumsfeld acreditou que podia fazer o mesmo no Iraque. Não ouviu pela segunda vez os comandantes militares, mas dessa vez se deu muito mal. Agora, os americanos esperam que outras potências regionais assumam suas responsabilidades em seu entorno - como o Brasil já faz no Haiti, aliás, tão insolúvel quanto o Iraque. A análise é de Edward Luttwak, especialista em assuntos de defesa, consultor do Pentágono e integrante do movimento de reforma militar, do qual Rumsfeld foi o expoente. Luttwak, de 63 anos, um analista singular, com vasta experiência no terreno - volta e meia ainda participa de operativos militares -, autor de livros importantes (Golpe de Estado - um Manual Prático, A Grande Estratégia do Império Romano e Turbo-Capitalismo), veio ao Rio para duas palestras no 6º Encontro Nacional de Estudos Estratégicos, na Escola de Guerra Naval. E concedeu esta entrevista ao Estado. O que muda com Robert Gates no comando do Pentágono? Gates remove um obstáculo à mudança. Rumsfeld era muito pragmático. Ao removê-lo, Bush também remove suas próprias objeções a uma mudança de política. Rumsfeld não era o obstáculo real a essa mudança. Mas foi uma forma simbólica de o presidente dizer: 'Mudei de opinião.' Rumsfeld elaborou a doutrina de um Exército menor e mais leve? Sim. Rumsfeld já tinha sido secretário de Defesa em 1976. Depois disso, fez muitas coisas, foi executivo de companhias. Mas sempre atuou no chamado movimento de reforma militar, do qual faço parte. Nenhum ministro da Defesa do mundo foi tão bem informado sobre temas militares quanto Rumsfeld. Ele conhecia todos os sistemas de armas, sabia como funcionavam e quanto custavam. Conhecia todos os esquadrões da Força Aérea, a estrutura e todas as unidades das Forças Armadas. E não tinha nenhum respeito pela tradição. Queria mudar tudo. Enfrentando muita resistência, ele fez muitas mudanças no formato do poder militar. Então, o que aconteceu foi que, em vez de uma guerra moderna, ele teve o Afeganistão. Os comandantes militares disseram: 'Precisamos de seis meses para construir uma base no Paquistão, e depois invadimos o Afeganistão.' Ele disse: 'Não. Vamos amanhã.' Os comandantes: 'Não temos nenhum Exército, nenhuma base, nenhum porto, nenhuma logística.' Os chefes do Estado-Maior queriam fazer uma invasão do Afeganistão ao estilo americano. Rumsfeld os forçou a fazer uma guerra de operação de comando completamente não-americana, do tipo que os britânicos e israelenses fizeram, mas que os americanos nunca tinham feito. Os americanos acreditam em poder de fogo, em logística, material. Eles esperavam uma luta dura no Afeganistão. Todo mundo, incluindo O Estado de S. Paulo, sabe que o Afeganistão é longe, não tem porto, eles são fanáticos, derrotaram os russos, há o inverno, o Ramadã... Os americanos foram lá e destruíram o Taleban. Esse sucesso comprovou as teses de Rumsfeld? O sucesso no Afeganistão tornou Rumsfeld inteiramente irrealista quanto ao Iraque. Não quanto a invadir o Iraque, que obviamente é muito fácil, mas quanto a ocupá-lo. Antes da guerra, os comandantes militares foram unânimes em dizer que, se você quer ocupar o Iraque, precisa de 500 mil soldados. Portanto, antes de ir, você terá que aumentar o Exército, que tem apenas 700 mil, e o Corpo de Fuzileiros Navais, que são só 300 mil. Porque, com um total de 1 milhão de soldados, você não pode ter meio milhão no Iraque. Para isso, precisa de outro meio milhão de soldados preparando-se para ir ao Iraque substituí-los. E precisamos da estrutura nos Estados Unidos, e temos a Coréia, o Oriente Médio, a Europa etc. Rumsfeld disse: 'Não, vamos invadir com muito poucas forças e não vamos adotar um padrão de ocupação.' A força total enviada para o Iraque é um pouco mais que o dobro da força policial de Nova York, que tem 37,5 mil integrantes. Foram 100 tanques. Eu estava como consultor do Corpo de Fuzileiros Navais na época. Eles foram em veículos de praia do Kuwait a Tikrit (ao norte de Bagdá). Deviam andar 50 quilômetros com esses veículos, andaram mil. Eu estive em Mossul (norte do Iraque) um mês depois da conquista de Bagdá. É uma cidade de 3 milhões de habitantes. Não vi nenhum soldado americano. Que espécie de invasão é essa? Rumsfeld queria economizar? Não. Rumsfeld saiu convencido do Afeganistão de que as Forças Armadas sempre pedem tropas demais. Ele estava certo em relação ao Afeganistão e errado em relação ao Iraque. Mas o presidente o acompanhou, porque estava impaciente, queria uma invasão rápida, não queria esperar um ou dois anos. Por que Bush foi tão afoito em invadir o Iraque, ignorando tantas evidências contrárias? Fundamentalmente, por causa do momentum, a energia e o impulso do 11 de Setembro. Os americanos foram atacados, invadiram o Afeganistão e o Taleban entrou em colapso. Aí, as pessoas disseram: 'Vamos nos livrar desse ditador (Saddam Hussein).' Os neoconservadores achavam que os iraquianos estavam prontos para a democracia. Apenas eram oprimidos pela ditadura. Removendo o ditador, a democracia floresceria. Qual a missão de Gates? Robert Gates foi um homem muito tolo. Se você voltar a 1990 (quando Gates era analista da União Soviética na CIA), verá que ele acreditou que a perestroika não era para valer, e sim uma armação de (Mikhail) Gorbachev para desarmar a América. Mas ele é um administrador muito competente, e o próximo secretário de Defesa só terá que administrar o desengajamento (no Iraque). Ninguém está pedindo que ele pense. Quanto tempo demorará o desengajamento, e como será? O prazo é o que resta do mandato do presidente (dois anos). Mas o desengajamento não significa abandonar o Iraque à própria sorte. Nem os democratas mais críticos da guerra defendem isso. Não se fará o que se fez com o Vietnã. Significa retirar-se das cidades e povoados, parar o patrulhamento, e ficar apenas nas bases remotas do deserto, das quais se protegerá o governo iraquiano, impedindo países como o Irã, a Síria e mesmo a Turquia de invadir o Iraque. Existem vastas áreas do Iraque onde não há ninguém. Pode-se operar de lá. E o Iraque mergulhará na guerra civil? Guerras civis são boas para separar populações e estabelecer a paz civil. Os americanos e britânicos tiveram sua guerra civil. Agora, os iraquianos vão ter a sua. Mas os americanos não vão mais participar dela. E vão entregar o Afeganistão à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte, cujas forças já atuam no país, junto com as dos EUA). Vamos continuar no Oriente Médio, na Coréia, em Okinawa (base no Japão). Mas não vamos mais estar indo para os lugares. É o fim do intervencionismo? A política americana balança num pêndulo entre intervencionismo e não-intervencionismo, entre ativismo internacional e concentração nos temas internos. Com o fim da Guerra Fria, na primeira metade dos anos 90 os Estados Unidos decidiram ficar em casa. Os europeus pediram ajuda na guerra da Bósnia e no genocídio em Ruanda. Bill Clinton, o então presidente, negou. Ele achava que os europeus tinham de resolver esses problemas. Os americanos não estavam intervindo no Oriente Médio, na Ásia nem na África. Então, houve enorme pressão internacional para que os Estados Unidos interviessem. Em função dessas pressões, Clinton, um presidente muito não-intervencionista, bombardeou os sérvios e liderou a guerra em Kosovo, porque os europeus diziam que se ele não fizesse isso os sérvios matariam 1 milhão de pessoas. E quem dizia isso? O presidente Jacques Chirac, da França, o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, toda a opinião pública européia. Todos diziam: você tem que ser intervencionista. Em 2000, os americanos sofreram uma decepção no Oriente Médio, com o fracasso de Camp David (negociações de paz entre o então primeiro-ministro israelense, Ehud Barak, e o líder palestino, Yasser Arafat), Então, em 2001, o presidente George Bush disse: 'Vamos ficar em casa.' E isso acabou no dia 11 de setembro de 2001. Vieram o sucesso no Afeganistão e o fracasso no Iraque. Agora, os americanos estão prontos para mais um balanço no pêndulo. Querem ficar em casa de novo. E esperam que outros países intervenham. O Brasil, por exemplo, assumiu a responsabilidade pelo Haiti, que na verdade é um problema insolúvel. O que os Estados Unidos estão dizendo agora é: se tem um problema na sua parte do mundo, resolva você. Como fica a 'guerra contra o terror'? Todos sabem que essa expressão está errada. Não é uma guerra e o terrorismo não é um inimigo, mas uma técnica, um método. Na realidade, trata-se de uma luta contra o extremismo islâmico, contra os jihadistas. E essa luta vai muito bem. Antes do 11 de Setembro, muitos Estados patrocinavam os terroristas. A Arábia Saudita, o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos os financiavam abertamente. Outros países árabes, como o Egito e a Síria, lhes forneciam bases. O presidente Pervez Musharraf, do Paquistão, ajudava o Taleban. Outros encorajavam politicamente a Al-Qaeda, o Hamas e o Hezbollah. Agora, nenhum Estado patrocina o terrorismo, com exceção do Irã. O mundo ficou muito difícil para os terroristas. Os americanos foram muito bem-sucedidos em persuadir todos os governos muçulmanos, do Marrocos à Indonésia, a lutar contra o terrorismo. A Coréia do Norte representa uma ameaça? Os norte-coreanos têm sido passivos. Eles ladram, mas não mordem. São teatrais. E a resposta americana é completamente diferente daquela em relação ao Oriente Médio: o multilateralismo. E o Irã? O Irã será uma história diferente. Se os iranianos não pararem, vão ser bombardeados. Não vão ser invadidos, não haverá uma democracia iraniana. Mas se eles não forem contidos politicamente, o serão fisicamente. É questão de destruir 70 edifícios em dois dias de bombardeios aéreos. Mesmo que o próximo presidente americano seja do Partido Pacifista, se os iranianos insistirem no seu programa nuclear, ele vai bombardeá-los. |


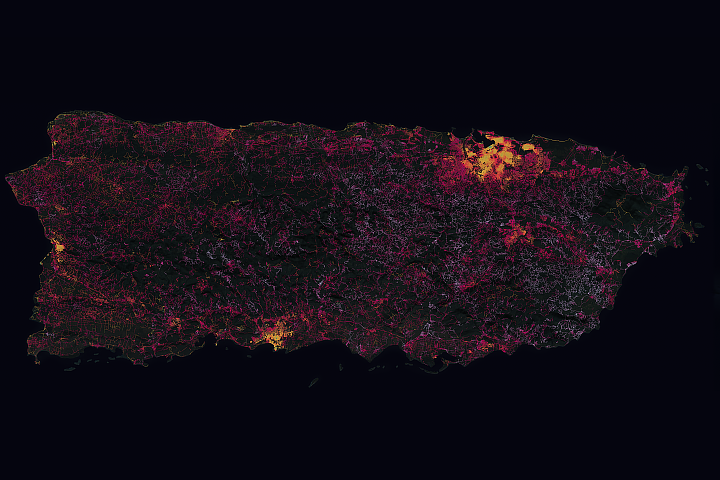


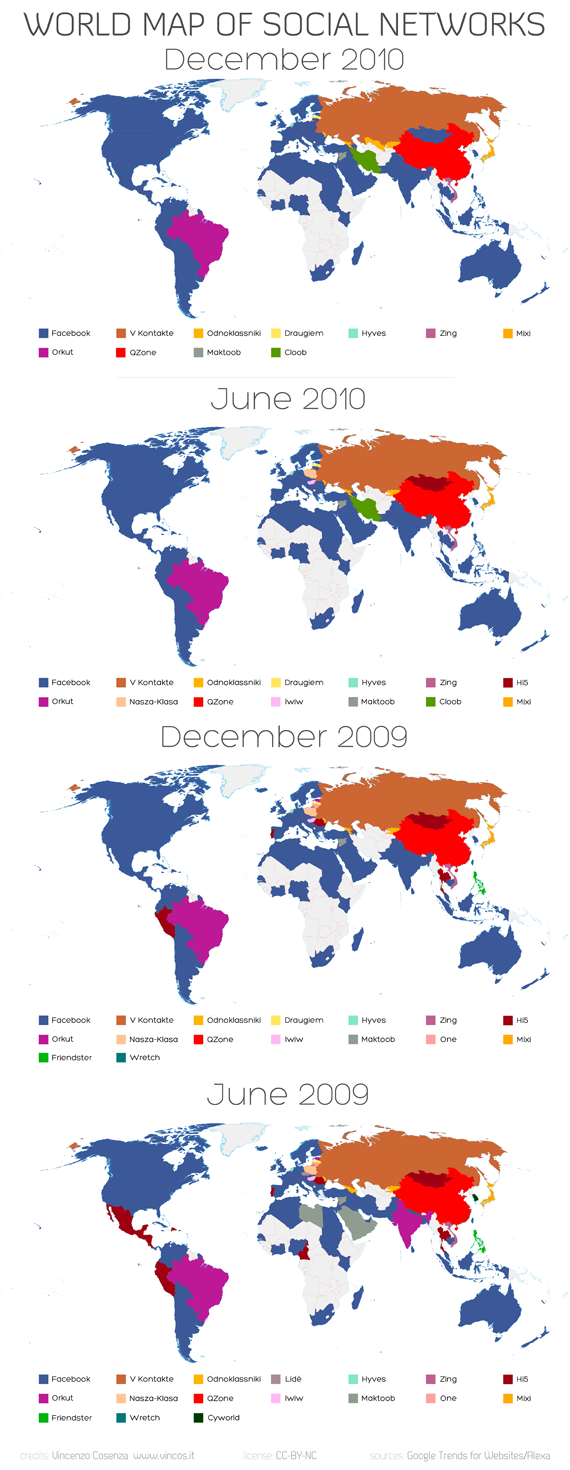









No comments:
Post a Comment