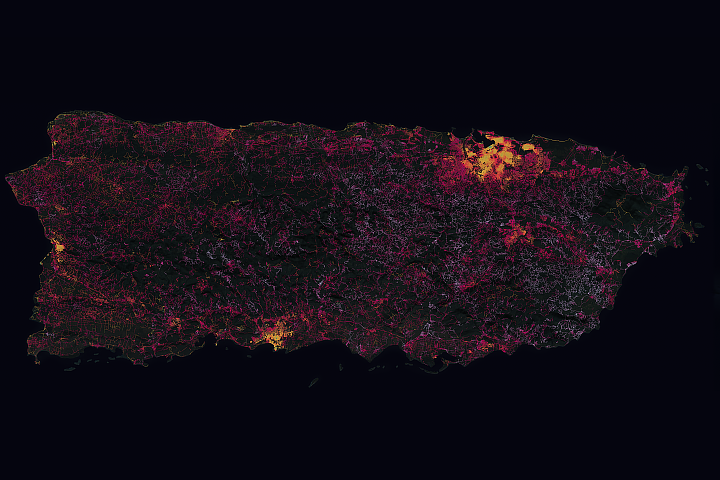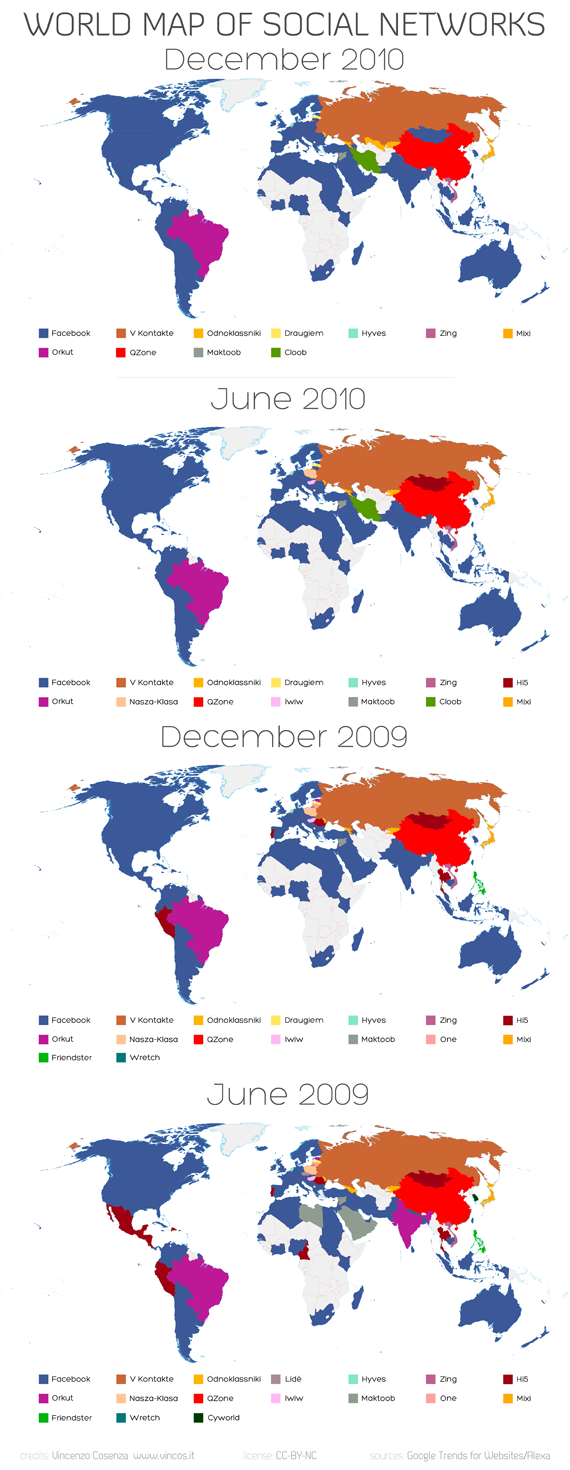Lorenzo Carrasco
Palestra proferida na Escola Superior de Guerra,
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2005.
I
Em primeiro lugar, quero deixar registrado um agradecimento ao general Barros Moreira, pelo convite para discutir nesta casa esse tema de grande relevância para o momento atual, com um público tão selecionado. Isso me leva de volta a 1991, quando, juntamente com minha esposa Silvia Palácios, ambos, então, correspondentes da revista Executive Intelligence Review (EIR) no Brasil, tive a oportunidade de debater as “Lições da Guerra do Golfo” com um importante grupo de oficiais militares e estrategistas brasileiros na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), quando se destacou um grupo de coronéis de larga visão sobre aqueles acontecimentos, dos quais fazia parte proeminente o hoje general Barros Moreira. Sem dúvida, aquele seminário foi um marco para a definição e o entendimento da “nova ordem mundial” que surgia e que os fatos posteriores vieram a confirmar em sua quase totalidade.
Naquele momento, ficou claro que o fim da Guerra Fria estava sendo aproveitado
por grupos hegemônicos do Hemisfério Norte, principalmente anglo-americanos,
com o propósito de estabelecimento de uma série de estruturas de “governo mundial” ou “governança global”, como preferem alguns, em detrimento dos Estados nacionais soberanos e suas instituições, entre as quais as Forças Armadas. Em especial nos países em desenvolvimento, daí surgiram investidas pouco dissimuladas ou mesmo ostensivas contra os setores estatais comprometidos com o fomento às atividades econômicas – principalmente as empresas de infra-estrutura -, sugestões de redução das Forças Armadas, consideradas “desnecessárias” no novo contexto global, posteriormente estendidas ao desarmamento civil (como no referendo recém-derrotado no Brasil), o desmantelamento do aparato financeiro do Estado (levado a paroxismos em países como a Argentina e o México), um “apartheid tecnológico” disfarçado em bloqueio de tecnologias avançadas, como a nuclear e a de mísseis, e a utilização em grande escala destes instrumentos de guerra irregular que são as chamadas organizações não-governamentais (ONGs) em um sem número de campanhas contrárias aos interesses dos países-alvo (como, aliás, já alertava a própria ESG no estudo Década Vital, em 1990) .
Desde aquele momento, temos acompanhado e analisado esse quadro no âmbito do Movimento de Solidariedade Ibero-americana (MSIa), que foi criado em 1992. Este trabalho que resultou em livros como O Complô para aniquilar as Forças Armadas e as nações da Ibero-América (1997), Máfia Verde: o ambientalismo a serviço do Governo Mundial (2001) e o mais recente, Máfia Verde 2: ambientalismo, novo colonialismo, que está sendo lançado nesta oportunidade.
O que não se pode vislumbrar entre as “lições” da Guerra do Golfo de 1991 foi, precisamente, a emergência do terrorismo islâmico, que viria a se tornar um fator central do mundo pós-Guerra Fria. De fato, a Guerra do Golfo delimitou a passagem da Guerra Fria ao que se pode definir, redundância à parte, como um novo impulso neocolonialista orientado para o domínio de regiões ricas em recursos naturais, principalmente energéticos. Surgia aí o novo conceito de “choque de civilizações” para substituir o choque ideológico da Guerra Fria. O próprio popularizador do conceito, o professor Samuel Huntington, da Universidade de Harvard, reconhece o fato em seu célebre livro com o mesmo nome, lançado em 1993:
“A Guerra do Golfo foi a primeira guerra por recursos naturais no pós-Guerra Fria travada entre civilizações. Estava em jogo a questão de se as maiores reservas mundiais de petróleo ficariam sob o comando dos governos saudita e dos
emirados dependentes do poder militar ocidental para a sua segurança, ou de regimes independentes antiocidentais, que teriam a capacidade e poderiam ter a disposição de empregar a arma do petróleo contra o Ocidente.”
O professor Huntington conclui essa avaliação dizendo que, “depois da guerra, o Golfo Pérsico virou um lago norte-americano”.
Da mesma forma, ele observa que “as invocações retóricas de Deus feitas pelo presidente George Bush pai em nome dos EUA reforçaram a percepção árabe de que era uma ‘guerra religiosa’”.
Como se pode perceber na atual invasão do Iraque, tal pai, tal filho. Não deixa de ser irônico que o notório fundamentalismo cristão da família Bush seja um contraponto perfeito para o fundamentalismo do qual se nutre em grande medida o terrorismo islâmico. Como veremos mais adiante, este fato não é casual.
.
.
II
Isso nos remete a 11 de setembro de 2001, que foi um divisor de águas para toda a estratégia hegemônica neocolonial e unipolar que está por trás da doutrina do “choque de civilizações”. Os ataques, o cenário estratégico em que ocorreram, suas contradições e conseqüências previsíveis foram o tema do livro Terror contra o Estado Nacional, que publicamos em dezembro de 2001 e no qual, mesmo sem utilizar o conceito de “terrorismo sintético”, discutimos os ataques como fatos que se enquadram nesta categoria.
Sem pretender aprofundar uma discussão que requereria um espaço bem mais amplo, no livro, apresentamos a perplexidade de numerosos especialistas diante de certas contradições da mecânica dos ataques, que, por si só, colocam em xeque a versão de que eles poderiam ter sido planejados e controlados por um grupelho de cavernícolas escondidos nas montanhas do Afeganistão e realizados por um pequeno grupo de “kamikazes” que, de alguma forma, teria conseguido ocultar suas intenções do sofisticado e vasto aparelho de inteligência e segurança interna da maior potência militar do planeta. Duas delas são suficientes para que qualquer investigador sério coloque pontos de interrogação sobre a versão “oficial” dos fatos.
Uma delas foi o acesso dos atacantes aos códigos secretos de comunicação da Casa Branca e do avião presidencial Air Force One, conhecimento que foi tornado público no próprio dia dos ataques por altos funcionários do governo estadunidense, entre eles o próprio vice-presidente Dick Cheney. Segundo vários relatos publicados pela mídia, por volta das 10h00 (hora local), o Serviço Secreto,
encarregado da proteção do presidente da República, recebeu uma ligação telefônica dos supostos terroristas, anunciando que o alvo seguinte dos ataques seria o próprio avião presidencial, o que motivou a sua imediata mudança de rota
e as escalas não-programadas efetuadas por Bush e sua equipe durante o dia, antes de retornar a Washington, no início da noite. Durante aqueles momentos de
incertezas, ninguém sabia ao certo a origem dos atacantes e o próprio Serviço Secreto chegou a fazer preparativos para resistir a uma eventual tentativa de golpe de Estado.
A outra evidência, que só se tornou pública em decorrência dos trabalhos da comissão oficial do Congresso que investigou os ataques (a chamada Comissão Kean-Hamilton), divulgados no final de 2004, foi a revelação de que, na manhã de
11 de setembro, nada menos que cinco exercícios envolvendo todo o sistema de defesa aérea continental dos EUA estavam sendo realizados, inclusive com a simulação do uso de aviões de passageiros seqüestrados como mísseis dirigidos contra alvos civis e militares. O realismo dos exercícios chegava ao ponto de simular “alvos” eletrônicos nos aparelhos de radar, o que levou a se mencionar,em dado momento, que havia mais de 20 aviões seqüestrados no ar. Por este motivo, havia pouquíssimos aviões de caça de prontidão na área em que ocorriam os ataques reais e, além disto, eles levaram tanto tempo para receber ordens de decolagem e interceptação. Vale recordar que o corredor Nova York-Washington é a aerovia mais trafegada do mundo e que a interceptação de aeronaves fora de rota pela Força Aérea é atividade rotineira, como já havia ocorrido em dezenas de casos em 2001, antes de 11 de setembro. Semelhantes coincidências desafiam a imaginação mais delirante.
Efetivamente, mesmo que tenham envolvido a participação de elementos radicais islâmicos, os ataques não poderiam ter ocorrido sem a cumplicidade ativa e passiva de elementos internos do aparelho de inteligência e segurança dos próprios EUA, sem que isto implique na aceitação de conclusões simplistas de que o presidente Bush estaria diretamente envolvido na trama. Não obstante, assim como ocorreu com o assassinato do presidente John F. Kennedy, dificilmente, os autores de semelhante atrocidade poderão ser apontados individualmente, embora se possa delimitar com razoável precisão os “currais” onde podem ser buscados.
Analisando os ataques de 11 de setembro pelos seus desdobramentos, percebese que eles se encaixam perfeitamente na estratégia do “choque de civilizações” adotada pelos círculos de poder atualmente representados na Casa Branca, os chamados “neoconservadores” e seus adeptos e cúmplices. Dois de seus desdobramentos ressaltam-se em particular:
1) a invasão do Afeganistão,
acompanhada de uma vasta mobilização militar estadunidense em países da Ásia
Central, anteriormente integrantes da órbita de influência de Moscou;
2) o estabelecimento de um verdadeiro aparato de Estado policial nos próprios EUA, com a criação do Departamento de Segurança Interna (DHS) e a reconfiguração de todo o aparelho de inteligência, que passou a ficar diretamente subordinado à Casa Branca; e
3) a doutrina de “guerras preventivas” contra países suspeitos de abrigar terroristas e armas de destruição em massa, inclusive, com o uso de armas nucleares táticas, anunciada na Estratégia de Segurança Nacional divulgada em setembro de 2002.
É um fato notório que, tanto a invasão do Afeganistão como a do Iraque, já constavam dos planos dos “neoconservadores” antes mesmo da vitória de Bush nas eleições de 2000. Na verdade, grande parte das diretrizes que viriam a orientar a atuação externa do Governo Bush pode ser encontrada no chamado “Projeto para um Novo Século Americano” (PNAC), iniciativa criada em 1997, ainda no Governo Clinton, por um grupo de notáveis “neoconservadores”, vários dos quais viriam depois a ocupar altos postos no Pentágono, no Departamento de Estado e outros centros do poder em Washington. Entre eles, destacam-se nomes como: o secretário de Defesa Donald Rumsfeld; o ex-secretário de Defesa Adjunto e atual presidente do Banco Mundial, Paul Wolfowitz; o chefe de gabinete da vice-Presidência, I. Lewis Libby (atualmente ameaçado de processo em uma investigação sobre o vazamento do nome de uma ex-agente encoberta da CIA); o atual embaixador em Bagdá, Zalmay Khalilzad; e outros figurões.
Na semana passada, o ex-chefe de gabinete do ex-secretário de Estado Colin Powell, coronel Larry Wilkerson, afirmou publicamente que a política externa dos EUA fora “seqüestrada” pela “cabala Cheney-Rumsfeld”, que, segundo ele, induziu o presidente Bush a invadir o Iraque e tolerar a tortura de prisioneiros iraquianos, além de ”deixar as Forças Armadas em má-forma”. Este foi um dos mais duros ataques já desfechados por um ex-funcionário do governo a uma administração estadunidense da qual tenha feito parte.
Em setembro de 2000, dois meses antes das eleições presidenciais, o PNAC divulgou um documento denominado “Reconstruindo as defesas da América: estratégias, forças e recursos para um novo século”, ostensivamente definido como um “roteiro para manter a proeminência global dos EUA, impedindo a ascensão de uma grande potência rival e formatando a ordem de segurança internacional em linha com os princípios e interesses estadunidenses”.
Curiosamente, os autores do documento reconhecem que algumas de suas propostas radicais só poderiam ser implementadas com a ocorrência de algum acontecimento de grande impacto, como “um novo Pearl Harbor”.
Sem que se possa implicar diretamente os mentores do PNAC no planejamento de 11 de setembro, o fato é que os ataques proporcionaram exatamente o “efeito Pearl Harbor” imaginado.
Seja como for, o certo é que 11 de setembro passará à História como um modelo do que está sendo chamado de “terrorismo sintético”. A expressão foi criada, oportunamente, pelo historiador estadunidense Webster G. Tarpley, um veterano
investigador dos bastidores do Establishment anglo-americano, em seu livro “11 de setembro: terrorismo sintético made in USA”, publicado este ano. Diz ele:
“O que oferecemos aqui pode ser pensado como uma teoria do terrorismo sintético. Este terrorismo é sintético porque reúne os esforços de numerosos componentes díspares: bodes expiatórios, toupeiras, profissionais, mídia e controladores. Ele também é sintético no sentido de que é artificial; ele não emerge espontaneamente, do desespero e da opressão, mas é o produto de um esforço de organização e direcionamento, em que facções do governo desempenham um papel indispensável.”
No livro, Tarpley mostra que, embora a denominação seja nova, a prática do “terrorismo sintético” tem uma longa tradição entre os círculos oligárquicos, especialmente os britânicos, que a transmitiram aos seus pares no outro lado do Atlântico. Um exemplo clássico é a chamada Conspiração da Pólvora de 1605, apresentada na maioria dos livros de história britânicos como um complô de um pequeno grupelho de fanáticos católicos para explodir o Parlamento no dia do início dos trabalhos daquele ano. Sabe-se hoje que, na verdade, a trama foi arquitetada pelo protestante sir Robert Cecil, visconde de Salisbury, com o propósito de evitar a aproximação pretendida pelo rei protestante Jaime I com a Espanha católica, além de ensejar uma perseguição aos católicos ingleses e eliminar quaisquer vestígios de influência católica nas políticas de governo. A longa sucessão de conflitos com a Espanha, que se seguiu, lançou as bases para a criação do Império Britânico, um século depois.
Em uma demonstração de que tais círculos oligárquicos cultivam a tradição, um descendente de Robert Cecil, o visconde de Cranbourne, então chefe do Conselho Privado da Rainha Isabel II, foi o mentor da insurgência dos guerrilheiros mujahidin no Afeganistão, na década de 1980, a qual envolveu o trabalho conjunto dos serviços de inteligência dos EUA, Reino Unido e Paquistão. Aí surge pela primeira vez o hoje célebre Osama bin Laden, então um jovem milionário saudita que repassava o dinheiro da CIA, do MI-6 e do ISI aos grupos mujahidin que combatiam a então União Soviética.
Outra planejada operação que poderia ser qualificada como “terrorismo sintético” é a chamada Operação Northwoods, revelada pelo jornalista investigativo James Bamford no livro Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency (Corpo de segredos: anatomia da ultra-secreta Agência de Segurança Nacional), publicado em 2001. A operação, planejada em 1962 pelo ultrareacionário general Lyman Lemnitzer, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, propunha deflagrar uma série de atos terroristas contra os próprios EUA, para atribuí-los ao regime de Fidel Castro e induzir a população estadunidense a aceitar uma declaração de guerra contra Cuba.
Um exemplo ainda mais recente da prática foi a captura de dois membros do SAS britânico em Basra, no sul do Iraque, em 19 de setembro. Os dois integrantes da mais sofisticada unidade de operações especiais das Forças Armadas de Sua Majestade, disfarçados com trajes típicos árabes, foram detidos pela polícia iraquiana depois de romper a bala um bloqueio policial no qual se recusaram a parar o automóvel em que estavam. Mais tarde, ao revistar o veículo, as autoridades iraquianas encontraram várias armas automáticas, carregadores de munição, equipamento de comunicações, explosivos e detonadores de acionamento remoto. Aparentemente, os dois se dirigiam a uma manifestação popular em um mercado da cidade. Os investigadores policiais suspeitam que sua intenção era promover um atentado contra a multidão, o qual seria osteriormente atribuído a grupos da resistência sunita contra os invasores do Iraque ou à rede terrorista Al-Qaida. Para libertar seus homens, o comando britânico na cidade enviou à delegacia onde estavam detidos uma companhia de soldados apoiada por tanques e helicópteros, o que provocou um conflito no qual uma parede do prédio foi derrubada (do que se aproveitaram 150 prisioneiros para fugir) e vários civis e policiais iraquianos foram mortos.
Como um estranho post scriptum, o investigador oficial britânico dos acontecimentos, um capitão do Exército, foi morto em circunstâncias isteriosas, um mês depois.
Fatos como esse poderiam explicar muitos dos atentados aparentemente sem sentido desfechados contra a população civil do Iraque, nos últimos dois anos.
.
.
III
A invasão do Iraque nos proporciona também uma visão de outra tendência que está em marcha no mundo das operações estratégicas do eixo anglo-americano: a privatização de atividades militares e de inteligência. No primeiro semestre de 2004, havia 25.000 mercenários e operativos de inteligência privados no Iraque, contratados por empresas como a Vynell Corporation, Dyncorp (que também atua na Colômbia), Olive Security, Kroll Associates, Control Risks e várias outras. A maioria dos contratados dessas empresas são recrutados entre unidades de elite como os SEAL, Força Delta e Rangers estadunidenses e o SAS britânico, e agências de inteligência, como a CIA, FBI, MI-5, MI-6 e outras.
Na verdade, o processo de privatização de atividades de inteligência angloamericanas veio à tona com as investigações do escândalo Irã-Contras, que revelaram a cumplicidade de um aparato de “governo paralelo” que operava a partir do Conselho de Segurança Nacional do Governo Reagan, com uma pletora de elementos que atuavam à margem dos serviços de inteligência oficiais e do submundo do crime organizado, especialmente o narcotráfico, o qual proporcionava grande parte dos recursos financeiros para as operações clandestinas. Uma das empresas do esquema era a KMS, uma espécie de SAS privada, que foi contratada para treinar os “Contras” nicaragüenses. Vale lembrar que o então vice-presidente George H.W. Bush era o encarregado de supervisionar todas as operações de inteligência dos EUA.
Para o Brasil, a relevância desses fatos se prende à atuação de algumas dessas empresas no país, como a Kroll e a Control Risks. A extensão dessas atividades furtivas pode ser vista por ocasião da eclosão do escândalo Kroll-Opportunity, no
ano passado, quando a Kroll Associates foi apanhada espionando não apenas os competidores do empresário Daniel Dantas, do grupo Opportunity, mas também autoridades judiciárias e federais brasileiras. A propósito, esse conluio explícito entre grupos nacionais e estrangeiros coloca em questão grande parte do processo de privatizações das empresas públicas brasileiras.
Por sua vez, a Control Risks, que tem um escritório em São Paulo, tem vínculos com o aparato ambientalista, em especial com o Fundo Mundial para a Natureza (WWF). Curiosamente, um dos altos dirigentes do WWF no Brasil, Francisco Müssnich, é também advogado e cunhado de Daniel Dantas.
Para o Brasil, em qualquer retomada de um projeto nacional de reconstrução e inserção soberana em um mundo em construção que se pretende multipolar, o controle das atividades de tais agências de inteligência privadas é fundamental para impedir que os interesses nacionais não sejam vilipendiados por grupos de interesses com motivações escusas.
.
.
IV
Diante dessas evidências, as dificuldades para um entendimento correto do fenômeno do terrorismo contemporâneo decorrem de dois aspectos. Primeiro, a negativa de enxergar que por trás de grande parte do terrorismo encontram-se agências de inteligência oficiais – talvez, por receio de estar fazendo concessões a “teorias conspiratórias”. Sob esta ótica, os terroristas não passariam de “assassinos solitários” ou um fenômeno sociológico resultante de processos de opressão política.
O segundo fator é a substituição da análise histórica por uma mera coleção de fatos cotidianos, que dificulta sobremaneira um entendimento do cenário abrangente no qual se inserem os atos terroristas. Por exemplo, o presente terrorismo islâmico não pode ser analisado fora do contexto da estratégia hegemônica dos grupos oligárquicos internacionais que buscam perpetuar o seu poderio diante da cada vez mais evidente crise do sistema de poder mundial.
Nesta arena global, um elemento central de tal estratégia é uma investida contra os Estados nacionais soberanos e suas instituições, para a qual o terrorismo constitui um perfeito instrumento.
Ainda no contexto da Guerra Fria, estrategistas anglo-americanos como Bernard Lewis e Zbigniew Brzezinski elaboraram o conceito do “Arco de Crises”, segundo o qual a melhor forma de fustigar a então União Soviética seria fomentar instabilidade e rebeliões entre os povos islâmicos, em uma vasta área que se estendia do Norte da África, passando pelo Oriente Médio, até o Cáucaso e a Ásia Central. Lewis, em particular, é herdeiro de uma longa tradição de profundo conhecimento dos povos árabes por parte das elites britânicas, consolidada nas universidades de Oxford e Cambridge e no Gabinete Árabe do Ministério das Relações Exteriores. Brzezinski, seu fiel discípulo, defende a tese de que a chave para a hegemonia global dos EUA é o domínio da Ásia Central e suas vastas reservas de petróleo, como expõe em seu livro “O grande tabuleiro de xadrez” (The Grand Chessboard), importante fonte de inspiração dos “neoconservadores” que dominam o Governo Bush filho.
A invasão soviética do Afeganistão, em 1979-89, proporcionou um campo de treinamento para dezenas de milhares de guerrilheiros mujahidin, que foram financiados e armados pela inteligência anglo-americana e, após o conflito, se transformaram numa base de recrutamento para o terrorismo islâmico que se tornaria cada vez mais presente na década de 1990, inclusive, de forma proeminente, a hoje célebre rede terrorista Al-Qaida (al-qaida significa “a base”, em árabe).
Em abril de 1995, a revista Jane’s Intelligence Review afirmou que excombatentes
no Afeganistão estavam em atividade na África do Norte, Península Arábica, China, Cachemira, Filipinas, Tadjiquistão e na Costa Leste dos EUA.
Entre eles, havia 5.000 sauditas, 3.000 iemenitas, 2.800 argelinos, 2.000 egípcios, 4.000 tunisianos, 370 iraquianos e 200 líbios. De acordo com a revista, a capital da Chechênia, Grozny, havia se tornado “um centro de trânsito dos veteranos árabes da guerra afegã”.
Muitos desses veteranos mujahidin foram recrutados por vários serviços de inteligência para operações clandestinas de todo tipo, inclusive do gênero “terrorismo sintético”.
Como o próprio Huntington admite no Choque de civilizações, “o Afeganistão foi a vitória final e decisiva, o Waterloo da Guerra Fria. Entretanto, para aqueles que
lutavam contra os soviéticos, a Guerra do Afeganistão foi algo diferente... foi a primeira resistência bem-sucedida a uma potência estrangeira que não estava baseada em princípios, quer nacionalistas, quer socialistas... mas em princípios islâmicos, que foi travada como uma jihad (guerra santa), que deu enorme ímpeto à autoconfiança e ao poderio islâmico”.
Ou seja, sem a manipulação direta de agências anglo-americanas, esses prototerroristas islâmicos dificilmente teriam obtido os meios de se amalgamar em uma ameaça global, não somente contra um invasor colonialista-imperialista, mas, potencialmente, contra toda a civilização cristã ocidental. Essa nova “Internacional Terrorista” não se prende a nenhum esquema de libertação nacional como os que, no passado, motivaram ações terroristas contra as potências coloniais. Em verdade, trata-se de uma força de guerra irregular contra o Estado nacional secular, tanto no Ocidente, como no próprio mundo muçulmano. É precisamente nesta ojeriza aos Estados nacionais que reside a identidade de propósitos entre as oligarquias ocidentais e os fundamentalistas islâmicos que se dispõem ao terrorismo.
Vale enfatizar que, historicamente, as potências coloniais ocidentais sempre fomentaram o fundamentalismo islâmico, porque preferiam essa rejeição difusa às idéias ocidentais a tolerar a emergência de regimes nacionalistas modernizadores que representavam uma oposição muito mais séria ao ímpeto colonialista. Isto se viu claramente, por exemplo, na oposição ao regime de Mustafá Kemal Ataturk, na Turquia da década de 1920.
A chegada de Franklin Roosevelt à Presidência dos EUA, em 1933, representou um contraponto ao impulso colonialista, que se acentuou durante a II Guerra Mundial, na qual Roosevelt deixou claro ao primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que o fim da guerra marcaria também o fim do colonialismo europeu.
Sob este impulso positivo, a despeito da morte prematura de Roosevelt, em 1945, surgiram no pós-guerra vários movimentos políticos modernizadores em todo o mundo islâmico, baseados em Estados nacionais seculares, como no Irã de Mossadegh, no Egito de Nasser e no Iraque do general Kassem. Até mesmo no Afeganistão, as idéias de Roosevelt incentivaram o rei Mohamed Zahir Shah a empreender um processo de modernização anticolonial do país, o qual, no entanto, ficou prejudicado com a morte do presidente estadunidense.
Um reflexo desse ímpeto anticolonialista ainda pode ser observado na atitude firme do presidente Dwight Eisenhower durante a crise de Suez, em 1956, contra a invasão anglo-francesa-israelense do canal de Suez, nacionalizado por Nasser.
Grande parte do prestígio diplomático dos EUA no mundo árabe tem aí a sua origem, o qual, não obstante, começou a esvaziar-se rapidamente após a Guerra do Golfo de 1991.
Dessa tradição de operações de inteligência baseadas num profundo conhecimento cultural dos povos-alvo, emergiram os vetores étnico-religiosos que são hoje prevalecentes em grande parte das manifestações de terrorismo e de prototerrorismo, aí incluídas as suas variantes indigenista e camponesa, como as que se manifestam no México, Bolívia, Peru, Brasil e outros países. Em parte, o movimento ambientalista e seu exército irregular de ONGs integra o mesmo impulso.
.
.
V
Antes de concluir, é preciso comentar brevemente outra conseqüência direta da Guerra do Afeganistão, que foi a explosão da produção e do consumo de drogas, cujos rendimentos foram usados em larga escala para o financiamento da resistência aos soviéticos. Essas drogas vinham não apenas da própria região (depois da guerra, o Afeganistão se tornaria o maior produtor mundial de papoula e ópio), mas também de um relacionamento clandestino entre setores da
inteligência dos EUA e os cartéis colombianos, que, segundo fontes de inteligência
estadunidenses, contribuíram com pelo menos 10 bilhões de dólares para o esforço da guerra anticomunista, quase o dobro dos dispêndios oficiais dos EUA e da Arábia Saudita juntos. Em troca, os cartéis sul-americanos receberam um afrouxamento das operações de vigilância e repressão antidrogas nos EUA, o maior mercado do mundo. O precedente desta relação seria seguido por ocasião das operações clandestinas Irã-Contras.
Uma das instituições-chave desse processo foi o Bank of Credit and Commerce International (BCCI), que, além de gerenciar os fundos clandestinos utilizados para financiar a guerra no Afeganistão, serviu como uma “câmara de compensação” para um vasto esquema de tráfico de armas e drogas provenientes do Crescente Dourado, que floresceu na década de 1980. Quando foi fechado, em 1991, por ter perdido a sua razão principal de existência após a retirada soviética do Afeganistão, o BCCI tinha uma capitalização de 23 bilhões de dólares, a maior parte dos quais desapareceu sem deixar vestígios.
Por outro lado, o BCCI (oficialmente sediado no Luxemburgo) era parte essencial do esquema financeiro que apoiava as operações clandestinas do “governo paralelo” de George Bush pai, durante toda a década de 1980. O coordenador visível do esquema Irã-Contras, tenente-coronel Oliver North, tinha quatro contas na agência do BCCI em Paris. Uma agência do banco na Suíça era usada pelos chefes do Cartel de Medellín para repassar suas maciças contribuições financeiras para a guerra no Afeganistão.
O dramático aumento da produção e do uso de drogas que se seguiu ao conflito afegão e a extensão e sofisticação das operações do BCCI contribuíram largamente para tornar o sistema financeiro internacional “adicto” dos rendimentos do narcotráfico. Sem estes vultosos recursos, que, segundo avaliações da Organização das Nações Unidas, atinge a casa dos 600 bilhões de dólares, o sistema financeiro internacional, em sua forma atual, já teria quebrado há muito tempo. Em grande medida, este é o principal obstáculo a um combate efetivo ao narcotráfico e ao próprio terrorismo internacional.
A economista italiana Loretta Napoleoni, uma especialista nas finanças do submundo do narcotráfico e do terrorismo, afirma que o pior efeito da desregulamentação dos mercados financeiros prevalecente desde a década de 1970 foi a fusão do que chama a “Nova Economia do Terror” com a economia ilegal e criminosa, cujo montante estima em 1,5 trilhão de dólares. Em um estudo publicado em abril de 2004, ela afirma que “o grosso desse dinheiro flui para as economias ocidentais, onde é reciclado nos EUA e na Europa. É um elemento vital do fluxo de dinheiro vivo dessas economias”. Segundo ela, “qualquer tentativa de coibir a economia ilegal e do terror internacional terá que levar em conta essas interdependências e ser resultante de uma estratégia multilateral concertada”.
.
.
VI
Diante de todo esse quadro, surge a questão de como enfrentar o fenômeno do terrorismo internacional, inclusive em sua variedade “sintética”. Há dois planos, um tático e outro, mais importante, estratégico. No plano tático, são necessárias ações baseadas em uma estreita coordenação de inteligência entre governos nacionais que estão na alça de mira dos inimigos do Estado nacional soberano, sem que isto implique de forma alguma a aceitação da agenda da “guerra global contra o terrorismo” nos moldes propostos pelo atual governo dos EUA. No plano estratégico, é evidente que será necessária uma nova investida frontal contra a patologia neocolonialista que ainda infesta grande parte do planeta, com a reversão da deterioração socioeconômica que proporciona o caldo de cultura para a insatisfação e o fundamentalismo, principalmente entre massas de jovens desprovidos de uma perspectiva positiva de futuro.
Em relação aos próprios EUA, nas últimas semanas, têm surgido evidências de que certos setores do Establishment já se deram conta de que o rumo em que os “neoconservadores” colocaram o país leva a um precipício. Uma delas é o indiciamento judicial de dois altos assessores do próprio presidente George W. Bush e do vice-presidente Dick Cheney, respectivamente, o assessor político Karl Rove e o chefe de gabinete I. Lewis Libby, ambos proeminentes membros da “cabala” a que se referiu o coronel Wilkerson.
É claro que não basta uma mera mudança de guarda para mudar o cenário, sendo preciso uma verdadeira guinada na política dos EUA, que retome e atualize o impulso positivo da era Roosevelt. Isto implica tanto em mudanças na ordem econômica, como nas relações internacionais, para privilegiar os Estados nacionais soberanos e regimes verdadeiramente republicanos, orientados por um princípio de bem comum e progresso geral das populações.
.
.
http://www.alerta.inf.br/Documentos/Terrorismo%20sint%E9tico.pdf
.
.