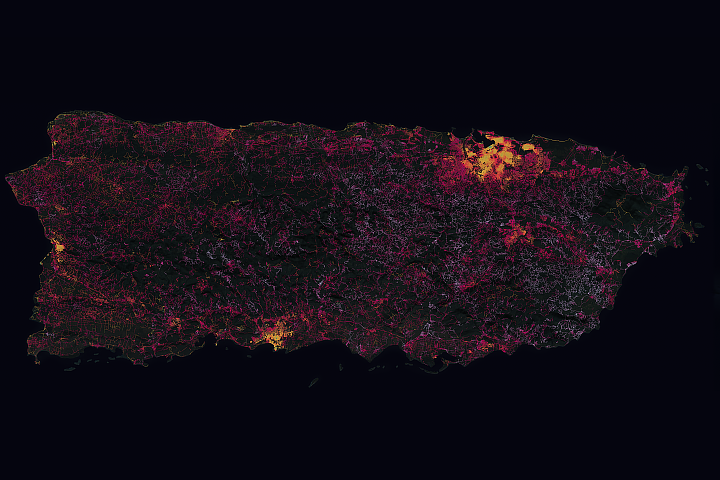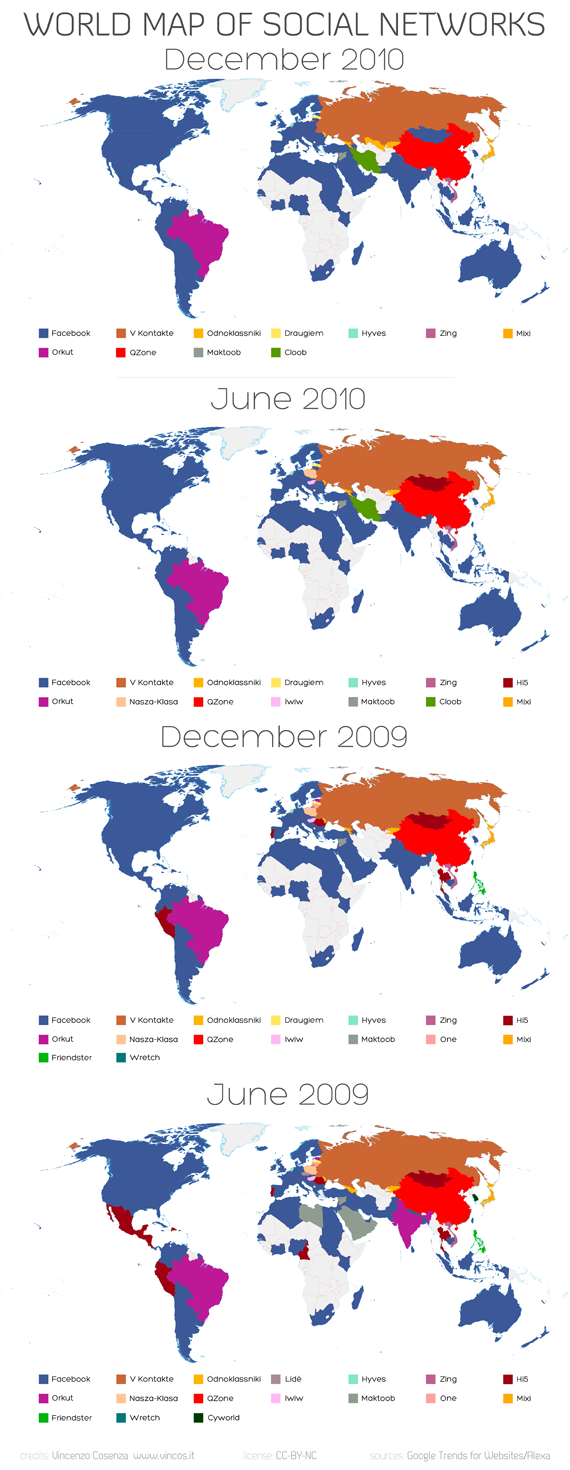Um inteligente comentário sobre o post "Subdesenvolvimento do gigante" em que reproduzo "A culpa pelo atraso brasileiro", pode ser dado pelo igualmente inteligente blog http://execout.blogspot.com/.
Não me interessam os aspectos religiosos do protestantismo, mas seu caráter individualista foi mesmo essencial para impulsionar o capitalismo. E o Brasil ficou fechado para isso. Aqui, uma elite mínima discutia Newton no tempo de Voltaire e do Iluminismo. As idéias sempre chegaram aqui com pelo menos um século de atraso. O Brasil estava entregue às vacas na segunda metade do Séc. XVII, quando começou a Revolução Industrial na Inglaterra. A culpa é de Portugal, diremos, mas Portugal, quando muito, auferia o filé mignon do nosso gado. Também estava, e permaneceu séculos, estalado num feudalismo repressivo, de que nem as semi-reformas do Marquês de Pombal, superficiais e contendo em si próprias o reflexo ofuscante do atraso que se propunham combater, alteraram na base.
A própria interpretação materialista da História, por sinal, seja a do acadêmico marxista ou a do tecnocrata, é um obstáculo à compreensão do nosso passado, porque nega a dimensão espiritual, extra-econômica, do pensamento e comportamento dos seres humanos. O cruzado e o colonizador, assim, se iludiriam a si próprios se achavam que o objetivo deles era promover o cristianismo, porque o que fizeram, na prática, foi pilhar os índios e os muçulmanos. Marx aplica esse tratamento com grande sucesso intelectual a diversos períodos históricos, ainda que seja tedioso nos escritos dele que os homens estejam sempre tropeçando na vida porque não anteciparam ou leram Marx.
Nossa vida é calcada, em boa parte, em ilusões e fantasias, e, estas, como tudo mais, tendem a sedimentar culturalmente através de gerações, a tal ponto e com tal variedade e contradições, que não é fácil separar o “real” do “imaginado”. Grandes intelectuais racionalizam o que, pressentimos no íntimo — apesar de intimidados pela lógica dos pensadores — foi uma enorme confusão. Em alguns momentos, a História parece mais clara do que em outros, quando há rupturas de tradição. Esse é o caso da revolução protestante e, em nosso tempo, da soviética. Ir além disso é cair no metafísico, ainda que pretensamente materialista e “científico”.
A Igreja, antes de Lutero, estava longe de ser um monolito de tranqüilidade e conformismo. Sempre esteve à beira da cisão por heresias mil, suprimidas com violência. Na chamada Renascença, gente como Erasmo de Rotterdam pregava uma humanização do hermetismo medieval e bizantino que sugeria um paralelo espiritual do humanismo artístico de Giotto, Dante e Petrarca, na esfera secular. E a Igreja, não raro rachada em duas ou três, de Roma a Avignon, se secularizava na permissividade de costumes, que tanto chocou o provinciano Lutero e predecessores como John Wycliffe e John Huss (que traduziram a Bíblia para o vernáculo, antes de Lutero).
O importante no destino brasileiro é que a colonização se processou sob a Igreja da Contra-Reforma, cujo agente mais radical foi a Companhia de Jesus. Os jesuítas entraram na nossa história numa forma lendária de progresso e benevolência, quando, na realidade, não importa que pretensões e práticas espirituais nos tenham legado, foram agentes de um medievalismo imposto de cima pra baixo, sem relação com os objetivos de desenvolvimento material que garantiram a emergência de nações que se impuseram ao mundo, da Inglaterra aos EUA. Os jesuítas apareceram como tropa de choque em 1540, antes mesmo que o reacionarismo geral da Igreja ganhasse corpo doutrinário, litúrgico, com o longo Concílio de Trento (1545-1560). A Contra-Reforma negava o próprio conceito de nação, no que este resiste, por definição, à autoridade supranacional da Igreja, ainda que esta tenha se ajustado à soberania de países e grupos que permaneceram fiéis a ela (França, o Império dos Habsburgo, etc).
Seu ideal era a fragmentação da Idade Média, ambiente no qual ela podia servir como barômetro e meteorologista, determinando e definindo tudo que pudesse conter pelas promessas e punições de um futuro eterno de que conhecia exclusivamente o caminho. Onde pôde, a Igreja da Contra-Reforma impediu o progresso histórico do nacionalismo e a criação de uma sociedade em que os homens tentassem assumir o seu destino, decidindo o que melhor lhes convém (isso gerou, pelo processo de tentativa e erro, avanços sociais na Europa protestante que precederam por quase um século a Revolução Industrial, que produziria a base econômica do que chamamos hoje de democracia).
A Inglaterra de 1688, a da “Revolução Gloriosa”, que limitou definitivamente o absolutismo real, seria impensável na Espanha e em Portugal, onde a Contra-Reforma atuou decisivamente na decadência e ruína. A fúria da Revolução Francesa se deve em parte, pelo menos, à necessidade sentida de erradicar a presença retrógrada da Igreja, o principal e infalível alvo de todos os intelectuais iluministas, porque ela era a justificativa espiritual do absolutismo do baronato, das “classes eleitas”, das leis irreformáveis, do “lugar de cada um” na ordem das coisas, do imobilismo social, em suma.
O Concílio de Trento proibiu até que os leigos lessem a Bíblia, de onde Lutero tirou a idéia letal de que se podia falar diretamente com Deus. A Contra-Reforma promoveu o analfabetismo onde atuou, e o impôs onde pôde. Fez uma guerra sistemática à ciência, de qualquer tipo. Autores perfeitamente aceitáveis aos clérigos protestantes, como Newton e Locke, inovadores em seu tempo mas sem qualquer propósito revolucionário, que adiantaram o conhecimento do mundo físico e social do homem, foram banidos do Brasil e Portugal, ainda que uma elitezinha sempre tivesse acesso de contrabando a eles.
O Brasil só começou a ter imprensa e universidades no Séc. XIX, em quantidade parca e restrita, com o padre invariavelmente acoplado à orientação dominante. Isso acontece ainda hoje, quando as travas jurídicas e policiais desaparecem, e a paixão pela censura reemerge em regimes sem pretensão religiosa. É um estigma estrutural da nossa cultura.
O latifúndio, tão demonizado pelos esquerdistas, nada mais é do que uma reprodução colonial do feudo europeu, ideologicamente apoiado no conceito padresco de fragmentar, de dividir para conquistar, de antinação. É claro que ao colonialismo secular também interessava a divisão em capitanias, que não houvesse um centro, mas o próprio Portugal parece paralizado na História. Não foi o país de Vasco da Gama que nos colonizou, mas o da decadência do rei Sebastião, um fanático religioso, e do “sebastianismo”, um exemplo clássico de paranóia coletiva, e o rei esse a quem Camões dedicou Os Lusíadas, mas o poema fala do passado, porque futuro não havia. O último surto epidêmico da Contra-Reforma por lá foi o salazarismo, e desde os 1700, do Tratado de Methuen, Portugal não passou de satélite da Inglaterra, cuja formação cultural é de outra ordem...
Somos contemporâneos dos EUA. Basta comparar a formação dos 13 Estados deles e a nossa, de país livre, “imperial” (quá, quá, quá...), em 1787 e 1824, respectivamente, que as regras dos dois jogos ficam claras. Há muito pouco história do Brasil que analise criticamente nossa formação. Na maioria das vezes, os jesuítas aparecem não como a força repressiva que foram, mas como os que cuidavam das almas dos índios. Não se fala que essa “alma” havia sido descoberta do papa Paulo III (1534-1549), o homem que aprovou a criação da Cia. De Jesus, criou a censura papal e reativou a Inquisição — esse zelo todo era contrastado por hábitos pessoais que nada ficavam a dever aos dos Bórgia, entre eles o papa Alexandre VI, que nos deu o Tratado de Tordesilhas (e o Brasil a Portugal...).
Há os historiadores que descrevem os jesuítas como tirânicos, dissolutos e escravagistas, e os que admitem, p. ex., que o padre Vieira foi o autor da idéia de importar em massa escravos negros, dado o compromisso de salvar os índios, mas que insistem em que os padres impediram maior exploração dos nativos pelos portugueses, ainda que aceitem, contraditoriamente, que alguns Estados (Santa Catarina vem logo à memória...) só foram explorados pelo amor à caça — aos índios.
Não me interessam os pernosticismos de historiadores que querem ficar bem com os poderes públicos, presentes, passados e sobretudo permanentes. Só sei que, no caso, Anchieta é um poetastro dos mais infames, e Vieira é, claramente, um embusteiro, falastrão, adulador de reis e outros potentados, e capaz de idiotices como o “Quinto Império”, em que profetiza que Portugal será o sucessor, em grandeza, depois dos impérios assírio, persa, grego e romano. Isso é sandice, mesmo em meados do Séc. XVII. Vieira continua um modelo para intelectuais, o que não exclui pensadores ateus. É o precursor do lero-lero de nossas elites. Merece “as honras”.
Os padres enfiaram os índios em aldeias, salvando-lhes as almas mas apressando-lhes a morte, pelas doenças contraídas dos colonizadores. Talvez os escribas do Marquês de Pombal, pagos é verdade pra xingar os jesuítas que ele queria expulsar de Portugal, soubessem do que estavam falando.
O espírito da Contra-Reforma, aliado ao colonialismo, reforçou-o a nada criar de permanente, unificado ou progressivo. E muito menos progressista. É saque, puro e simples. Seja de ouro e diamantes, os famosos “ciclos” que só nos renderam alguma literatura e, os mais lucrativos, deixaram in memoriam igrejas nas quais os saqueadores iam pedir perdão pelos seus pecados contra a terra, os índios e os negros. O que certamente conseguiam, depois de pagar a comissão dos padres, esses empreiteiros de almas.
Os espanhóis ao menos criaram grandes centros urbanos, talvez devido ao grande influxo de judeus, antes da expulsão, e por muitos deles terem se convertido. Seja como for, criaram um espírito mercantil e de progresso. Coisa que o português parece nunca ter experimentado. No que teve o apoio dos padres, que deviam reter na memória as acusações dos protestantes de que Roma era a “prostituta da Babilônia” (nos tempos de Lutero certamente foi o maior bordel do Ocidente). Logo, o Brasil só tinha direito a um amontoado de vilarejos em que só os padres, os ricaços e os funcionários públicos tinham vez.
Herdamos da Contra-Reforma o senso de fatalismo e de transitoriedade inútil na vida brasileira. Adaptando um pouco Vieira: “no estado miserável do reino... o mundo do nosso prometido império não é mundo nesse sentido”. O bom padre, em suma, só nos promete a vida eterna de prazeres se nos prostrarmos diante de Jesus. O resto é miséria agonizante à espera da graça.
É claro que a natureza humana aspira a mais. Essa aspiração, censurada, levou à mentalidade do saque. Todo o conhecimento do homem e do ambiente passa pelo crivo do padre, que elimina qualquer dado ou fato que possa dar margem a interpretações “heréticas”. O conhecimento é pasteurizado e congelado em preceitos medievais, limitando as ações dos recipientes. O tal saque, a mentalidade de tomar tudo até a última gota, é fruto de uma repressão recheada de moralismo rastaqüera, além da ignorância de como melhor usar, de manter e expandir, o que se tem à mão. Esse instinto acaba explodindo irracionalmente e sem conseqüência que não seja sua satisfação rápida e finita.
É típico, por exemplo, que a coroa e a nobreza portuguesas trocassem o que lhes cabia em ouro do Brasil por produtos de luxo ingleses, que utilizaram esse ouro para lastrear sua Revolução Industrial. Simplesmente não parecia ocorrer às toupeiras de Lisboa uma sociedade mais produtiva, uma sociedade que não essa do assalto medieval. Isso casa bem com o espírito da Contra-Reforma: do mundo não só nada se leva como nada frutifica... Esse imbecilismo hedonista lusitano está profundamente entranhado na mentalidade brasileira, na idéia de que o Tesouro do país é dinheiro achado na rua e nos trambiques monumentais dos homens de negócios do “lucro rápido”.
O erro central dos críticos materialistas de nossa história é achar que tudo isso já passou, afinal, esse negócio de Igreja hoje é uma relíquia, de interesse mais turístico do que político.
Não há dúvida de que nos secularizamos. Desde a Velha República, o pensamento das elites se volta para soluções materiais dos problemas brasileiros. O Positivismo é predominante, esse progresso por decreto, de cima pra baixo, imposto pelo mecanicismo científico, às vezes enfeitado com livros-texto que mais parecem livros de Administração de Empresas. Mas é progresso o que se quer ver. Já na Velha República, as frustrações dos positivistas deram em várias revoltas de jovens cheios de entusiasmo por reformas várias, todas fracassadas, naturalmente. Mas a tal revolução de 30 tinha um ideário vasto e alguma coisa foi feita.
Se rasparmos a conversa fiada, ideológica, dois temas sobressaem constantemente: a culpa é dos estrangeiros e a corrupção dos homens públicos é o entrave principal ao progresso. O primeiro é entremeado de contradições grotescas. Os professores nacionalistas imprecam contra os assaltos dos portugueses aos nossos recursos mas veneram o ex-colonizador, da mesma forma que se insulta os EUA mas se vai fazer compras em Nova York. Os ingleses, que nos dominaram por procuração a Portugal, não merecem esse saudosimo, talvez porque “frios”, ou por terem saído do palco em 1945 e nossas gerações seguintes terem crescido alienadas.
Esse sentimento de “saudades da senzala” serve para nos afastar de nossa responsabilidade na construção do atraso. Mistura imaturidade, covardia moral e falta de caráter. Culpamos portugueses e americanos pelo que somos, mas não queremos que eles nos abandonem. Afinal, são nossos bodes expiatórios, da nossa irresponsabilidade e incompetência. Me vem logo à cabeça Juscelino, que tirou o Brasil da roça com sua industrialização — cotó, castrada, mas importante — um homem de temperamento democrático e empreendedor, e no entanto prostrado em êxtase em face do feudalismo “estado-novista” de Antonio de Oliveira Salazar.
Quanto à corrupção, isso é uma simplificação. Ela cobre boa parte da história, mas corrupção pública nunca foi medida de sucesso político ou econômico. Se fosse, os EUA estariam como o Brasil. “Temos o melhor Congresso que o dinheiro pode comprar”, notou Mark Twain, entre outros.
Engraçado: a Igreja, essa multinacional, nunca foi chamada de imperialista, apesar de ser essa, imperialista, estrangeira e romana, a identidade que tem junto aos nacionalistas protestantes de outros países. Acreditamos que o catolicismo, por mais repulsivamente retrógrado que nos pareça, é “nosso”, como a Petrobrás. Ela levou muito mais em riquezas do que qualquer colonizador. Hoje, tendo perdido quase todo o poder de interferir na direção política das nações, à exceção de alguns países, ainda é participante ativa do debate público. Mesmo tendo perdido a coesão ideológica, depois do Concílio de 1962-65.
Se mete em tudo: O Papa se acha com pleno direito de fazer comícios sobre a política populacional de países pobres e ricos, política sexual, nuclear, alocação de verbas orçamentárias... É o chefe de Estado de uma nação estrangeira quando está fora ou dentro do Vaticano, mas uma personalidade forte na vida política italiana. E a Itália teve que literalmente fazer guerra ao Vaticano para se tornar uma nação unida.
É extraordinária a imunidade relativa de que a Igreja gozou na demonologia de nossos esquerdistas e nacionalistas. Até os críticos positivistas, no Séc. XIX, se concentravam mais no obscurantismo dos padres do que na influência política direta que exerciam. De qualquer forma, a maioria decisiva no Brasil acha que vale a pena aturá-la. Isso nunca é assumido, porque implicaria em assumir certas responsabilidades.
Há uma evasão, uma fuga, verificada também nas crônicas tidas como heróicas, porque, despidas de fachada e de pernosticismo verbosos, sempre emergem ridículas. Não faz sentido o desmembramento do país que um Frei Caneca propõe, em nome do liberalismo (qual e o que não fica jamais claro). E a ficha corrida de Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa complementa a irrelevância real do “canonizado” Joaquim da Silva Xavier. Há também a deprimente consciência, mencionada no início, de que as idéias chegam aqui atrasadas.
Atribuir esse marasmo à pura e simples exploração estrangeira é uma forma de suicídio intelectual. É inacreditável. Fizemos um país de que nunca veremos igual. Não devemos ser tão modestos em responsabilizar o próximo por nossa condição.
O próprio Vieira era capaz de relances do real, ainda que os utilizasse quase sempre para adular poderosos, que seriam diferentes de seus antecessores, a quem o padre ataca, e no ataque percebemos que ele fala do que é, e não do que foi. A crítica é sempre indireta, nunca frontal e concretamente subversiva. Há sempre um bom-mocismo esperançoso e piegas no Brasil, que permite ao crítico uma retirada estratégica se o pau comer sobre ele por ter violado o consenso de uma elite que se julga acima do bem e do mal, e que claramente está muito acima do gulag social.
A Igreja, algo enfraquecida e bastante dividida, adora protestar contra o “excesso” de materialismo, como se houvesse excesso de todos, e contra esta “obsessão vulgar” de se ter uma boa vida. Esquerdistas católicos também partilham desse credo, querem que o rebanho sobreviva, estão até dispostos a brigar pelo rebanho, desde que este não vire um “bezerro de ouro” bíblico. O espírito feudal e totalitário da Contra-Reforma muda de forma, não de substância, entre os fanáticos.
O horror de Marx pelo capitalismo é admirado, um tanto primariamente, por uma ótica míope. O fascínio dele pela revolução capitalista, ainda que ele lhe dê uma função histórica finita, é ignorado. Ou se dá a “volta por cima”, com táticas de Lênin e Trotsky. Tudo se justifica.
Nosso capitalismo e modernização foram superpostos a uma estrutura que continua no passado, ainda que aqui e ali, à beira das estatais que simbolizam um futurismo de realizações, e se consome no saque aos cofres públicos, ou na plantação que absorva um mínimo de miseráveis de uma terra desolada e desperdiçada. O custo desse “desenvolvimento” é pago pelo lombo surrado da maioria, enquanto as elites discutem qual modelo é o melhor, um que só os abrange — e a uma classe média auxiliar também. O resto que se dane, e se dana.
A idéia de que um centro de poder absoluto é a fonte e origem da felicidade ainda parece irremovível. Assume muitas formas, se apresenta como ditadura absoluta, democracia absoluta ou, a mais nova, a “sociedade civil” absoluta.
O voto do “coronel” vale o de milhares de trabalhadores do Centro-Sul, os decretos (ou, eufemisticamente, as atuais “medidas provisórias”) baixam sobre nós como os atos de Deus sobre o povo judaico, de quem a Contra-Reforma batoteou o Testamento, e assim as coisas vão. Ou não vão. Tudo pelo povo, nada para o povo, a la Pedro I. Desenvolvimento, aqui, só aquele feito pela autarquia.