O Estatuto da Cidade – Lei 10.257/2001 – saudado como apanágio urbanístico brasileiro da ‘esquerda’ e demonizado pela ‘direita’ vem de uma tradição de planejamento local e aberto, isto é, baseado na comunidade, vilarejo, cidade e com participação social através de referendos ou grupos de trabalho de composição mista (governos, empresários e associações civis). Quanto aos socialistas que enxergam no planejamento urbano, uma forma de inocular sua agenda estatista e totalizante, eu não me bato, pois seu modelo já se mostrou falido frente à dinâmica e caos produzidos na grande cidade. Mas, justamente por esta visão é que os liberais (econômicos) mantêm preconceitos contra o ato de planejar, especialmente, nas necessitadas urbes. Seria bom, no entanto, lembrar o pragmatismo que marcou o desenvolvimento urbano dos países desenvolvidos como algo que beneficiou as próprias sociedades abertas.[1]
Ao enfatizarmos qualquer proposta ou norma sem partir das condições iniciais, isto é, seu diagnóstico é que produzimos o maior erro. O mais comum e corriqueiro nestas discussões que apenas tangenciam o tema em si – planejamento urbano – é a imposição de um modelo de planejamento (ou negação de qualquer modelo) a partir de premissas puramente ideológicas e não técnicas porque a técnica é vista como ‘viciada’, isto é, como subserviente a um dado modelo político.
A discussão séria simplesmente trava sob a retórica de que “nada é neutro”.
O ponto polêmico com relação à idéia de planejamento se dá porque este envolve um grupo de especialistas, logo, de um domínio tecnocrático, de de uma primazia da minoria sobre a maioria, não sujeita ao escrutínio democrático de avaliação após um processo eleitoral.
Neste ponto, geralmente, o debate se acirra entre as diversas tendências políticas, normalmente dentro do espectro da ‘esquerda’. Pois, a “direita-liberal-econômica” não se afeiçoa à idéia de uma centralização da decisão econômica a ditar-lhe regras de usufruto de sua propriedade privada.
Portanto, não é fácil imaginar o planejamento urbano como uma política pública, algo tão importante quanto uma política de saúde ou educacional. Para que isto se tornasse efetivo seria necessária, a maior disponibilidade de informação sobre modelos de desenvolvimento urbano ao cidadão comum. Especialmente, se considerarmos que o planejamento atual tem na “participação social”, uma premissa. Contudo, isto se torna particularmente difícil quando a discussão escorrega dentro de um ringue de premissas ideológicas.
A diversidade de situações já deveria, por si só, ser suficiente para abortar sectarismos. O planejamento urbano para a realidade local de um país imenso, continental como o Brasil teria que ser bem mais que girar a roleta de opções com bulevares franceses, cidades-jardim britânicas, planos urbanísticos alemães ou o sistema de parques e cidades americano.
O que parece assustar muitos liberais (econômicos) é o populismo que o conjunto de instrumentos jurídicos da legislação urbanística propicia aos governantes oportunistas e suas câmaras de vereadores. E mesmo que tenhamos melhores quadros, com gente melhor qualificada, a chance de se perverterem com tamanha disponibilidade de concentração de poder é tanta que afasta quem mais precisaria do planejamento para regular e mitigar externalidades negativas do crescimento econômico na realidade urbana.
Neste sentido, o mote do “pai do planejamento urbano”, Patrick Geddes, Place, Work, Folk!, ao não levar em conta ou destacar a propriedade (privada) ou fazer qualquer menção ao espírito individual afasta ao invés de atrair, possíveis interessados de cunho liberal. Seu lema lembra, claramente, um apelo nacional-socialista ou algo do tipo... Porém, se nos aprofundarmos na obra de Geddes e entendermos o que ele, realmente, quis dizer, veremos que não apresenta tais traços totalitários, ‘sorelianos’, como os que podemos encontrar com maior freqüência nos “primos-irmãos” dos liberais (econômicos), os conservadores.
Com o fim da Idade Média e a constituição dos estados-nacionais, o modelo fundiário europeu-ocidental pautado na pequena propriedade tornou-se tão bem sucedido que parecia ser uma “obra da natureza”. Ao analisarmos o perfil econômico de um vale europeu com as terras aradas e um vilarejo central, a composição econômica de agricultores, artesãos e comerciantes parecia ser o “embrião natural” do que viria a ser uma pequena cidade e sua hinterlândia. No entanto, não temos nada de ‘natural’ aí... Se observarmos outros vales, bem mais a leste, precisamente na Índia notaremos que a cultura irrigada de arroz não pode prescindir de canalizações hidráulicas feitas por seu governo. O que, em determinado caso, pode ser totalmente obra de ações individuais somadas, noutro é conseqüência de uma obra coletiva induzida por um órgão governamental ou instituição formal. Podemos ter, portanto, fenômenos similares, cujas gêneses são totalmente distintas.
E o que os distingue a primeira vista os vales europeus dos indianos? A densidade demográfica. Se isto, por si só, não determina o desenvolvimento, ao menos impõe uma condição... Severa. Simplesmente, não dá para falar em propriedade privada e ausência do estado em condições de escassez de recursos naturais, no caso, a água.
(...)
[1] O início formal da teorização acerca do planejamento urbano vem com Patrick Geddes antes da I Guerra Mundial e com a primeira lei britânica sobre planejamento em 1909-10.

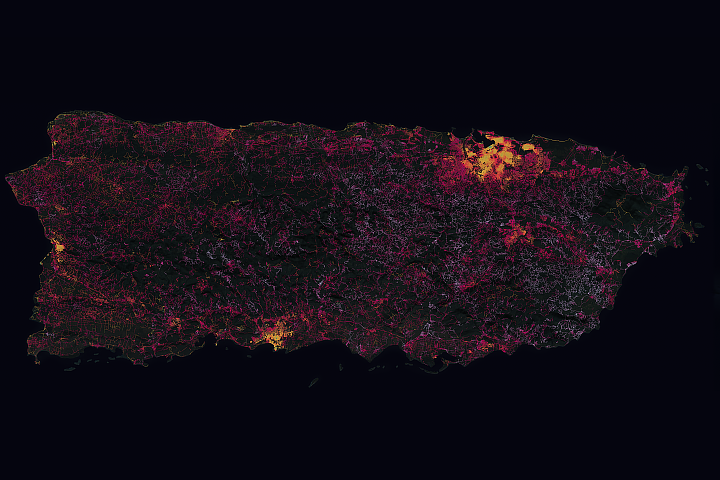


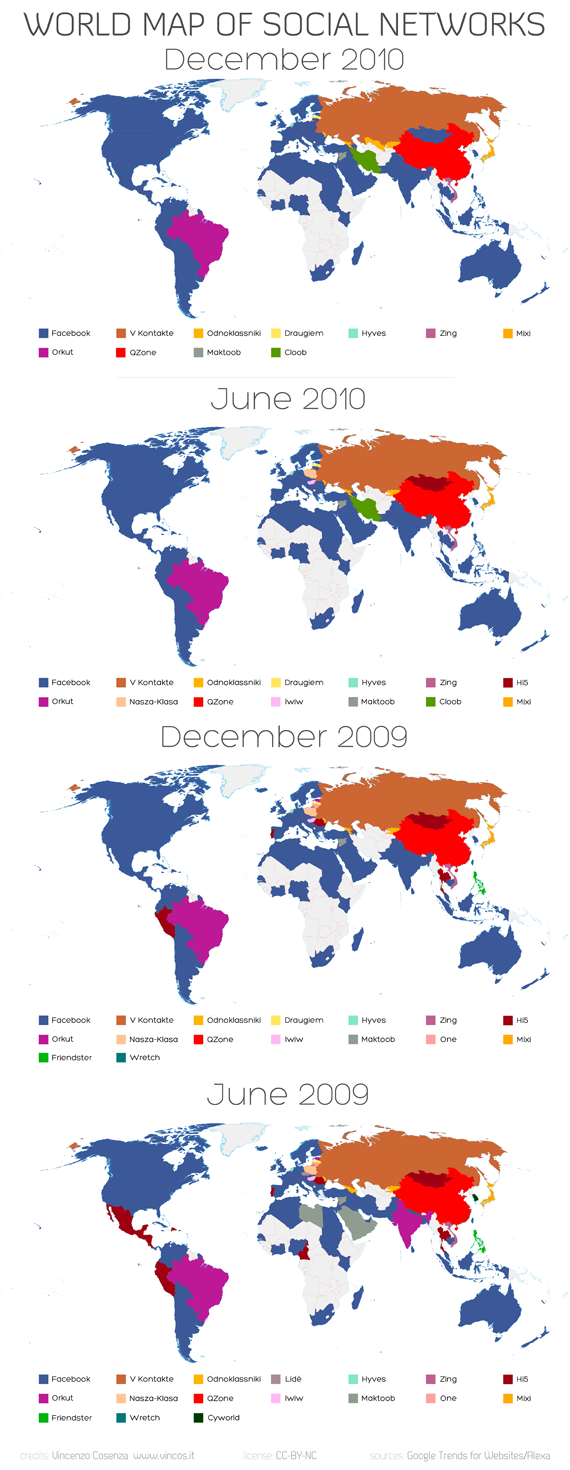









No comments:
Post a Comment